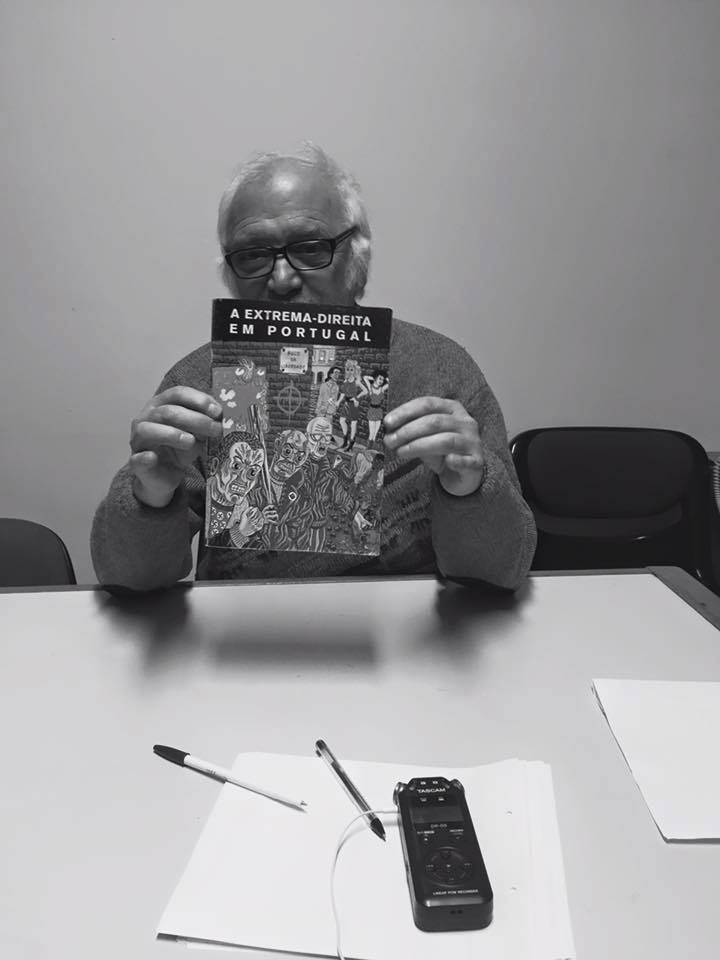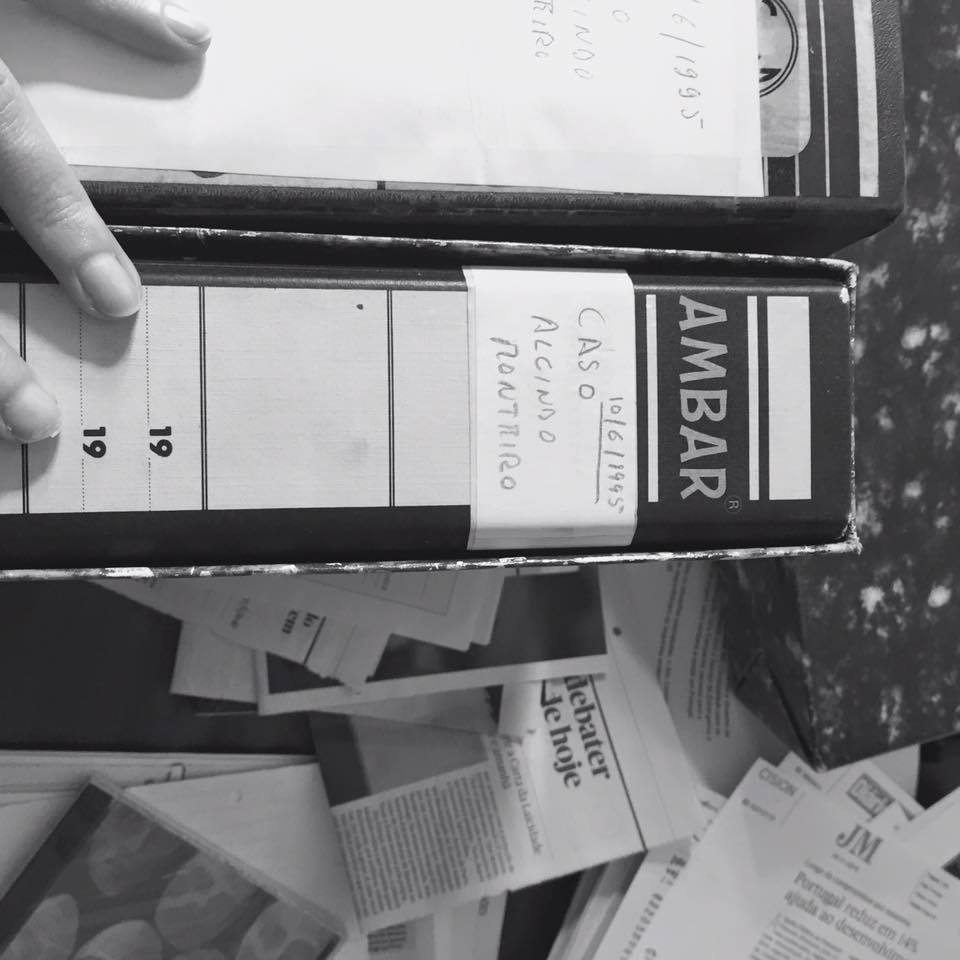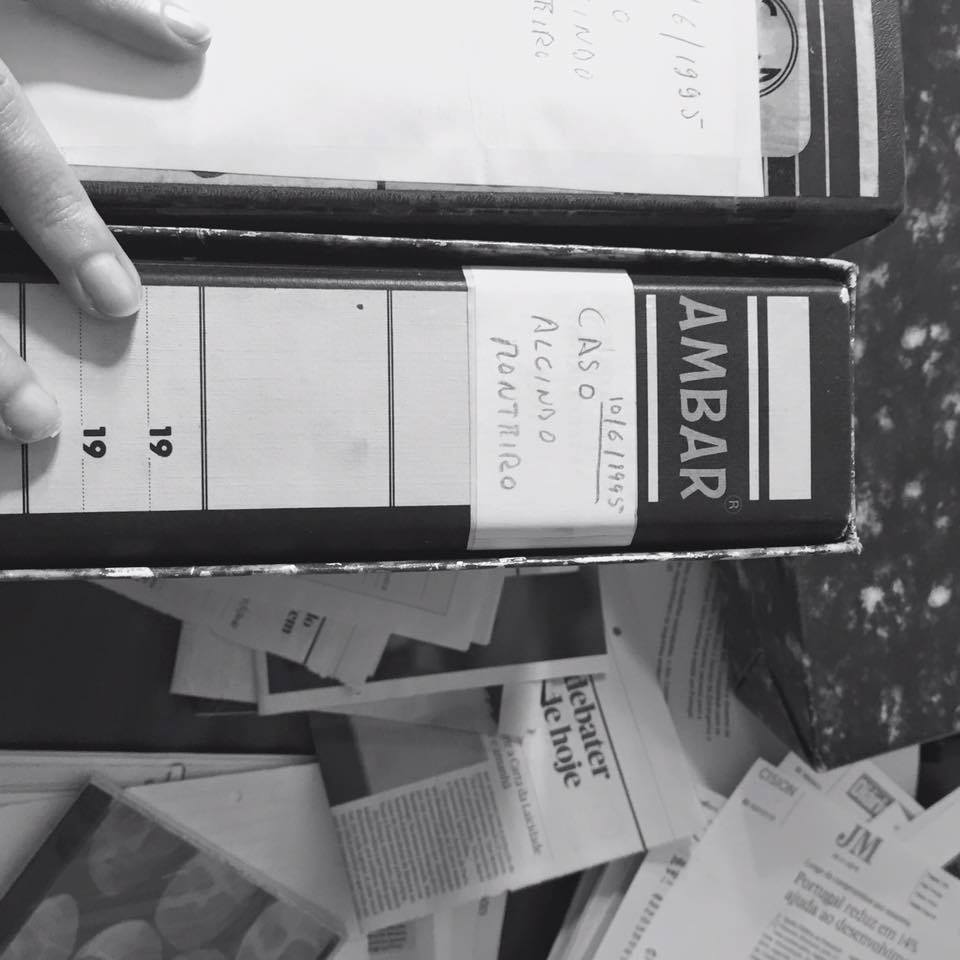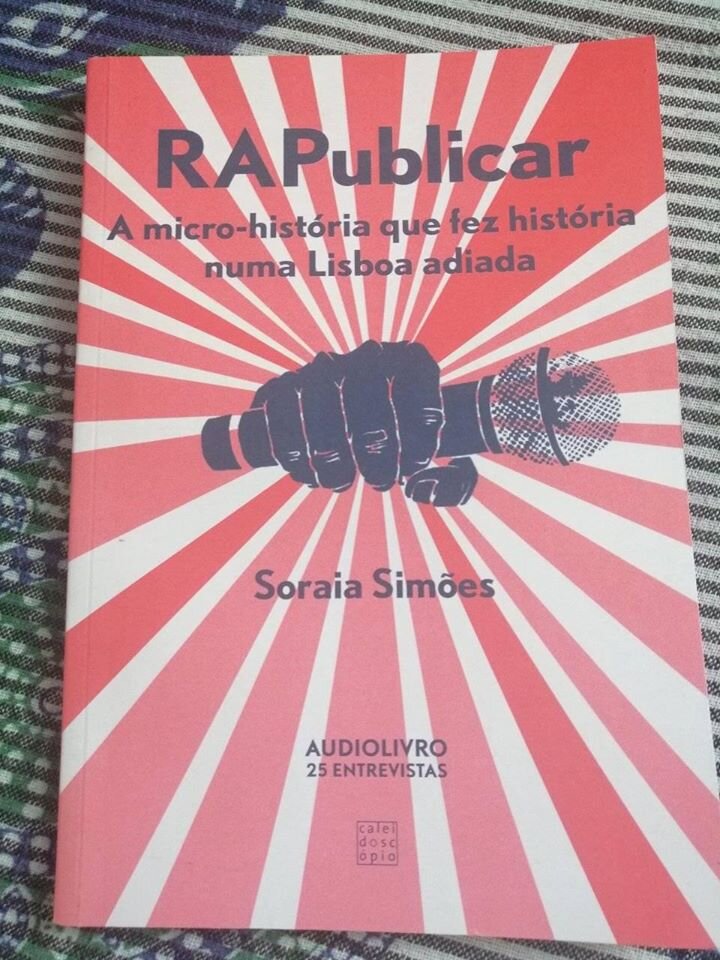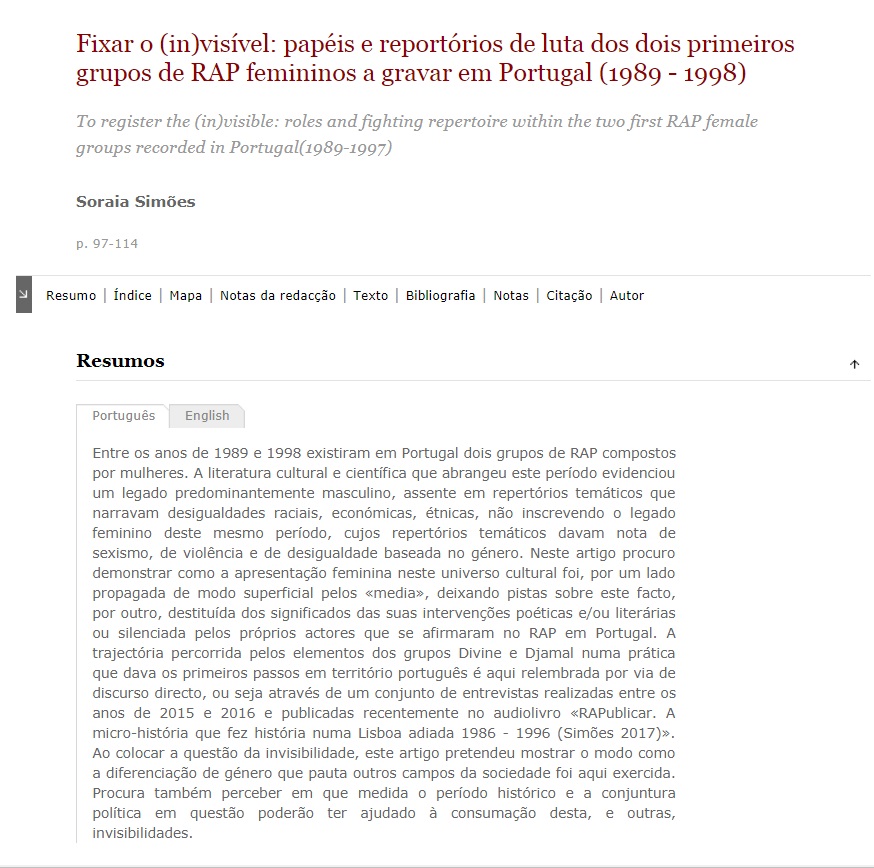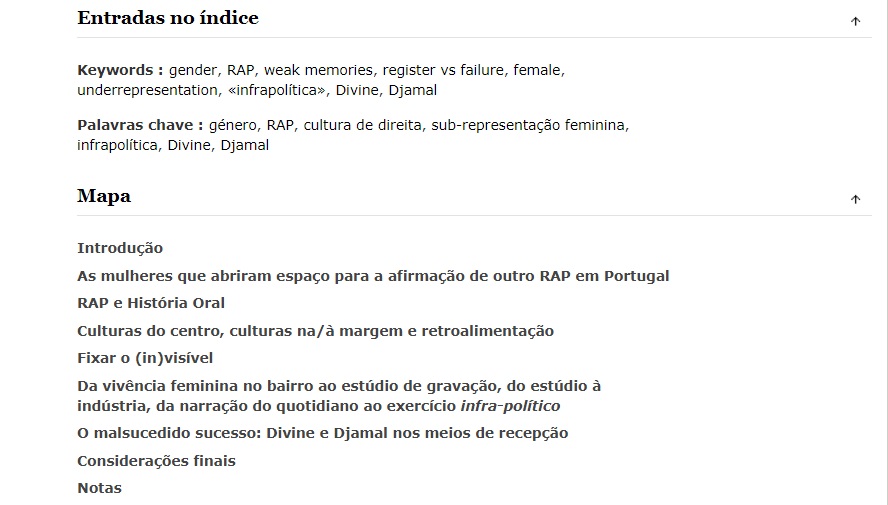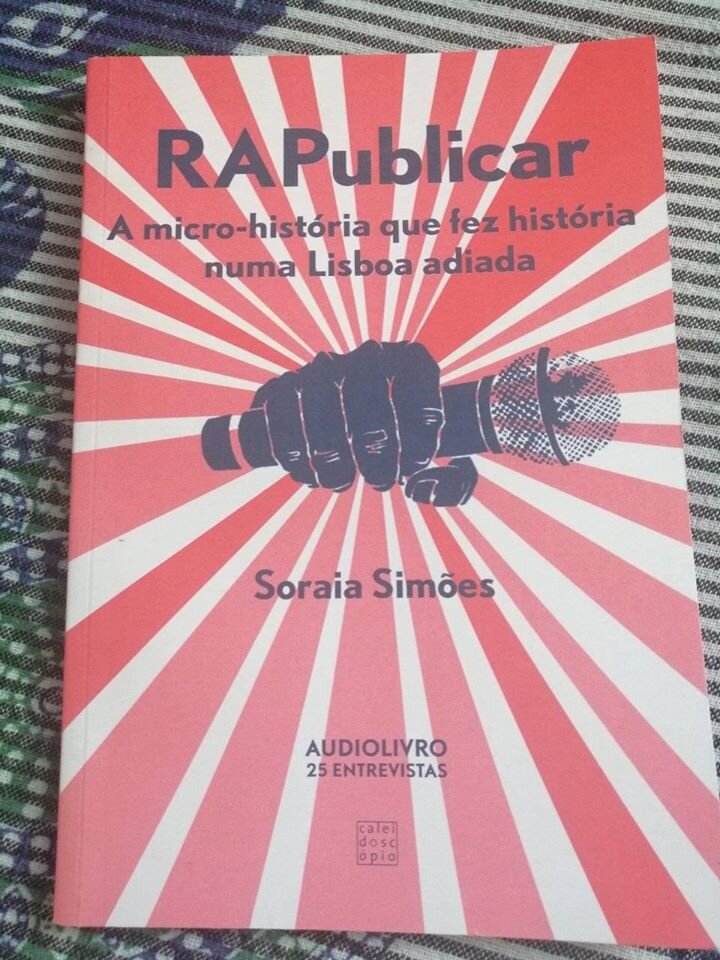por Alexandra M. Moreira do Carmo [1]
1. Introdução
Perante o actual desenvolvimento da ciência e da tecnologia e não se colocando já a problemática da escassez para a maioria das sociedades industrialmente avançadas, multiplicam-se as interrogações sobre a pertinência de abolir o trabalho imposto pela necessidade e a possibilidade de o substituir por actividades que visem mais a auto-realização. O horizonte deste questionamento será remetido, num primeiro momento, para um breve enquadramento histórico da noção de trabalho e dos argumentos que sustentam a sua abolição, desde Aristóteles e através de Karl Marx. Estará em causa a contraposição entre necessidade e liberdade cuja explicitação se desenvolverá, no contexto proposto, em torno da distinção que Hannah Arendt estabelece, em A condição Humana, entre labor, trabalho e outras actividades que escapam ao universo conceptual dos primeiros.
Num segundo momento, contrastar-se-á o pessimismo de Hannah Arendt com o optimismo de Karl Marx, relativamente à possibilidade de o ser humano se libertar da sua condição moderna de animal laborans – pese mais a sua utilidade na produtividade ou no consumo – por meio do desenvolvimento tecnológico. Concluo, discordando de Arendt, que a libertação em causa é possível mas esta não dependerá apenas do desenvolvimento da tecnologia. Partindo do pressuposto de que os critérios pelos quais se regulam as sociedades contemporâneas são ainda os da modernidade, entre outros, os da produtividade e consumo, utilidade e crescimento ilimitado, será a interrogação sobre a capacidade de a cultura contemporânea se libertar desses critérios que se mostra, na minha perspectiva, premente. Isto é, entre os diferentes apelos que a componente revolucionária da ciência e da tecnologia nos dirige, estará aquele que convida à ultrapassagem do modo como habitualmente se reduz, em nome do “progresso”, o domínio da existência ao da mera subsistência.
2. Liberdade e necessidade
As circunstâncias da idade contemporânea estão já determinadas pela evolução da ciência e da tecnologia, gerando inquietações, mas também antecipando novas realidades como a que atende ao desejo secular de libertar os seres humanos do trabalho imposto pela necessidade. O enquadramento histórico-filosófico relativo à “abolição do trabalho” exige que se distinga entre subsistência e existência, remetendo a primeira para as acções, meios e o conjunto de coisas essenciais ao processo biológico, estabilidade e preservação da vida e a segunda para a dimensão ôntico-ontológica do ser humano, actividade e capacidades que lhe são específicas cujo aprofundamento não se esgota nas acções que atendem às necessidades vitais. Neste contexto, poder-se-á também distinguir entre trabalho imposto pela necessidade e aquele que visa a auto-realização.
Este âmbito conceptual não difere muito do pensamento que influenciou a cultura do Ocidente, nomeadamente o grego, que distinguia entre trabalho e outras actividades que não são trabalho, e cujo menosprezo pelo primeiro se fundamentava na oposição entre necessidade e liberdade, e a ideia de que esta só seria possível na ausência das actividades que se ocupam da subsistência. Entre os modos de vida conotados com a liberdade, isto é, libertos do necessário e do útil, Aristóteles refere a vida orientada para o prazer [2] ; a vida que se ocupa dos “assuntos da polis” [bios politikos: acção (praxis) e discurso (lexis)]; e a vida que se dedica à investigação e “contemplação das coisas eternas” [theoria] [3], equivalendo esta última à vida mais autenticamente humana e feliz [eudaimonia] porque, conforme ao logos, nela se actualizam as possibilidades próprias e mais excelentes do ser humano [ergon] [4]. Sobressai na singularidade do pensamento aristotélico a ideia de que a felicidade é uma actividade [5], passível de potenciar não tanto o ter mas o ser humano e será esta liberdade que o filósofo não encontra nas actividades constrangidas pela necessidade.
O desejo de abolir o trabalho imposto pela necessidade pertence à génese do pensamento e cultura do Ocidente; no entanto, Hesíodo é um dos raros autores, senão o único, que aparentemente enaltece as penas das actividades vinculadas à necessidade. Distinguindo entre trabalho [(ergon) - trabalho criativo, cujo esforço dignifica o homem] e labor [(ponos), labuta sofrida, extenuante] [6], Hesíodo procura em Trabalhos e Dias valorizar o sofrimento oriundo de ponos, relacionando-o com a justiça [Dike], que domina a insolência [7] e cujo carácter virtuoso é resumido pelo autor na frase ainda hoje proferida “o trabalho não é vergonha, vergonha é não trabalhar” [8]. Mas o labor correlaciona-se também com a decadência progressiva da humanidade como o Mito das Cinco Idades explicita [9]. Se, na Idade de Ouro, os homens viviam ao abrigo do mal, trabalhos e aflições, na Idade de Ferro, a humanidade é alvo de uma punição cósmica [10], que sobre ela recai sob a forma do trabalho servil. Assim, embora dignifique o labor, Hesíodo também o considera um mal que a par dos outros males evolados da Caixa de Pandora é imposto por Zeus aos homens como castigo pela traição de Prometeu. Subjaz então ao labor, aos cuidados e aflições que consomem a humanidade, um sentimento de culpa, expiação e conformismo relativamente aos quais a sinistra frase “O trabalho liberta” inscrita nos portões nazis de Auschwitz não terá sido indiferente.
Derivando do latim tripalium que designa o instrumento composto por três varas utilizado para prender animais e torturar seres humanos, o sentido depreciativo que durante séculos foi atribuído ao trabalho depreende-se sem grande dificuldade da sua etimologia. Mas é no âmbito da contraposição entre labor e trabalho, referenciada por Hesíodo e aprofundada por Hannah Arendt na sua obra A Condição Humana, que melhor se explicita a heterogeneidade conceptual relativa à noção de trabalho [11].
Embora releve do sentido mais originário de labor uma componente ecológica e de proximidade do ser humano ao meio natural, o labor é também sinónimo de sofrimento, patente nas tarefas monótonas e extenuantes que o animal laborans executa com o objectivo de suprir as necessidades mais básicas do seu ciclo vital e o da espécie. Historicamente relacionado com a escravatura e a servidão, é no labor que a existência humana mais se ressente do peso da vida. Por seu lado, o trabalho corresponde ao universo do artifício humano de que o homo faber se ocupa, livre e criativamente, equivalendo, portanto, esta actividade a um modo de vida mais digna do que a do labor [12]. Esta distinção tende a esbater-se com o decorrer do tempo, mas as razões pelas quais se agregou labor e trabalho num único conceito, o de “trabalho”, diferem na antiguidade e na modernidade e, por isso, o desaparecimento desta contraposição reflecte também o modo como estes dois períodos da cultura europeia conceberam o que habitualmente se designa por “mundo do trabalho”.
No âmbito do pensamento aristotélico, as diferenças entre labor e trabalho não são irrelevantes, nem é questionada a correspondência deste último a uma actividade mais digna do que a do primeiro. No entanto, pelo facto de o trabalho não estar totalmente liberto do necessário e do útil, ele sofre, como o labor, embora noutro grau, de um deficit de liberdade [13]. Assim, para Aristóteles, a contraposição mais relevante será entre labor/trabalho, de um lado, e as actividades absolutamente livres dos constrangimentos impostos pela necessidade, de um outro, consistindo esta libertação, no essencial, na realização do que é mais próprio e especificamente humano.
[1] para citar este artigo: *Carmo, Alexandra M. Moreira «A humanização da necessidade e a liberdade necessária à realização pessoal e humana», plataforma Mural Sonoro https://www.muralsonoro.com/recepcao, 22 de Outubro de 2018. Anexo [sugestão].
*Investigadora do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa (CFUL)
[2] Cf. Aristóteles, 2004: 1095b. Para o desenvolvimento do conceito de prazer no contexto aristotélico, veja-se na mesma obra: 1172 a -1176.
[3] Cf. Aristóteles, 2004: 1095b -1096 a.
[4] O termo grego ergon traduz-se habitualmente por “função”, remetendo-se neste contexto para a especificidade da função humana, isto é, para a realização ou actualização das suas possibilidades próprias. (Cf. Martins,1994:185).
[5] Cf. Aristóteles, 2004: 1176b-1178b.
[6] Só o trabalho [ergon] deve-se à acção estimulante de Eris, o labor [ponos] constitui um mal, uma punição imposta por Zeus. (Cf. Hesíodo, 1990, vv. 20-26).
[7] Cf. Hesíodo, 1990: vv. 213-218.
[8] Hesíodo, 1990: v. 311.
[9] Cf. Hesíodo, 1990: vv. 109-201.
[10] Cf. Hesíodo, 1990: vv. 90-105.
[11] A língua grega distingue entre ponein e ergazesthai; o latim entre laborare e facere ou fabricare; o francês entre labourer (mais tarde travailler, do latim tripalium) e ouvrer; o alemão entre arbeiten e werken. Os primeiros de cada par são equivalentes de laborar, o verbo com o mesmo radical que labor, conotado com dor e penas, e que, por isso, refere os trabalhos mais pesados habitualmente executados por servos. [Cf. Arendt, 2001:159 (nota de rodapé)].
[12] Cf. Arendt, 2001: 9-21,107-117.
[13] Cf. Aristóteles, 1998: 1337b5.
3. Trabalho e modernidade
Na modernidade, labor e trabalho tendem também a reunir-se num único conceito mas pelas razões opostas às do espírito grego. A libertação dos grilhões da necessidade não é algo que preocupe o modo de ser moderno, pois será mais a vida orientada pelos critérios da utilidade, produtividade e consumo que aquele elegerá. Do conceito originário do labor, é sobretudo extraída a capacidade de trabalho árduo, mas desvalorizada a sua componente ecológica e de proximidade à terra, e o produto do trabalho artesanal do homo faber será absorvido pela indústria. No que diz respeito à contraposição entre o universo do labor/trabalho e o da vida teorética, a modernidade dará primazia ao primeiro. Há de facto, como Arendt refere, uma transferência do lugar antes ocupado pelo “animal rationale” para o “animal laborans” [14] mas esta cedência de estatuto não corresponde a uma paixão desinteressada pelo labor power. À excepção de Marx, que estava genuinamente preocupado com o labor per se, a intenção da maioria dos modernos era a de incrementar nas sociedades a livre e ilimitada acumulação de riqueza. No alcance deste propósito, a capacidade produtiva do trabalho laboral é crucial, insubstituível e, por isso, a ideia de o abolir torna-se agora definitivamente utópica, indesejada.
Mas a ambição moderna de crescimento sem termo não só coloca o labor no topo da hierarquia das actividades humanas como as convidará todas a integrar o seu processo, com o propósito de aumentar exponencialmente a produção e o consumo. Se originalmente o trabalho do homo faber se focava na produção de objectos de uso que se distinguiam pela sua durabilidade, a actividade do animal laborans destinava-se à produção de bens perecíveis relativa aos dois estágios do “eterno ciclo da vida biológica”, o consumo e a produtividade [15] . Esta polaridade do labor remetida a um processo interminável da actividade seria aquela que melhor se adaptaria à ambição dos modernos de crescer sem limites, empenhando-se assim o jovem capitalismo, através da industrialização e produção em massa, na redução de objectos de uso (duráveis) à categoria de bens de consumo (perecíveis). Ora ao aproximar-se tanto quanto possível a efemeridade de um vestido da de um produto agrícola, o consumo e a produção de tudo incrementam-se necessária e interminavelmente, como se o artificialismo humano pertencesse de facto ao eterno ciclo da vida biológica. Esta criatividade patente na orgânica dos processos de produção torna-os exaustivos, mas sem ele não seria possível atender à ambição de riqueza. Por isso, o trabalho é, na modernidade, “glorificado”, segundo a expressão de Arendt [16], e o seu alívio considerado “irracional” diante da “necessidade” de crescimento infinito. Neste desígnio progressista que pretende envolver todos os cidadãos, intelectuais e artistas são respeitados mas remetidos para o estatuto de convivas ociosos e parasitários, como se toda a actividade que não enriquecesse o mundo fosse indigna.
[14] Cf. Arendt, 2001: 111.
[15] Cf. Arendt, 2001:124.
[16] Cf. Arendt, 2001:111.
4. Produção, consumo e tecnologia
Os critérios pelos quais se regulam as sociedades contemporâneas são ainda os que se atêm à produtividade e consumo, utilidade e crescimento ilimitado. Todavia, o aperfeiçoamento sem precedentes da ciência e da tecnologia desafia alguns destes critérios, nomeadamente, o da utilidade dos seres humanos no processo produtivo. Mas podem as sociedades tecnologicamente avançadas prescindir do labor humano e simultaneamente manter intactos os objectivos que herdaram da modernidade?
As sociedades hodiernas são já sociedades de abundância e a robotização que integra a componente da inteligência artificial, conectividade e mobilidade, pelas competências que exibe, não constituirá uma ameaça para o processo do labor. Pelo contrário, os robôs não comem nem dormem, não reclamam direitos e, por isso, ao substituírem-se à mão-de-obra humana, responderão de forma mais eficaz à exigência de crescimento e alta produtividade, potenciando a abundância já existente.
Mas esta perspectiva de crescimento exponencial da riqueza não parece apaziguar os receios despoletados pela evolução da tecnologia, pela razão óbvia de que a robotização destrói empregos, retira o trabalho a quem dele depende para subsistir. No entanto, sob pena de a polaridade produtividade/consumo já não se sustentar, não é crível que se retire às pessoas os meios para adquirir as coisas que elas já não produzem, mas cujo consumo lhes é ainda destinado. Perante este problema, num volte-face que não deixa de ser irónico, argumenta-se que o trabalho imposto pela necessidade não desaparecerá, mas antes terá outra natureza, agora mais voltada para as áreas do conhecimento [theoria]. Sugerem-se simultaneamente soluções como a criação de um Rendimento Básico Incondicional (RBI) e a hipótese de os robôs contribuírem para o erário público, de forma a assegurar pelo menos a subsistência básica das populações. Estes argumentos suscitam, no entanto, algumas interrogações. A primeira dirige-se ao destino e propósito da ciência e da tecnologia, caso o processo do labor se aproprie destas, à semelhança do que fez na era industrial com a actividade do homo faber. Em contrapartida, nas propostas acima referidas, não é claro se a equidade distributiva da riqueza produzida e a da gestão dos recursos no planeta constituirão uma realidade passível de acompanhar o horizonte e o percurso revolucionário da tecnologia.
Precisamente, na modernidade, o caminho que a mecânica industrial trilhou nunca teve como horizonte o ambiente e a ecologia. A natureza estendia-se diante dos olhos dos modernos como um vasto mar de ricos e ilimitados recursos, inspirando ambições de riqueza análoga nas sociedades que pretendiam edificar. Hoje, os altos níveis de degradação e desgaste do ecossistema contrariam essa visão, mostrando que é insustentável crescer infinitamente num planeta com recursos finitos. Ora, ao perpetuar-se as aspirações da era industrial do século XIX e sendo previsível que a robotização aumente exponencialmente a produção (e o consumo) de tudo, esses recursos finitos dos quais depende realmente a subsistência humana serão muito provavelmente aniquilados. Perante esta realidade, se a cultura civilizacional não priorizar modelos que visem mais a gestão de recursos em vez da predação infinita dos mesmos, se ela não humanizar as instituições que a fundaram, a revolução tecnológica em curso tornar-se-á um pesadelo e precipitará os cenários apocalípticos que muitos preconizam.
5. A tecnologia no contexto da abolição do trabalho
Mas abrem-se também novas janelas de esperança perante a possibilidade de a tecnologia atender ao desejo secular, embora adormecido desde a modernidade, de libertar os seres humanos do trabalho imposto pela necessidade. Assim, como recaía sobre os escravos da antiguidade o ónus da subsistência da polis, os robôs também poderiam libertar os seres humanos para uma realidade onde estes apenas se ocupassem de actividades que os realizasse. Mas, segundo Arendt,
“A sociedade que está para ser libertada dos grilhões do trabalho é uma sociedade de trabalhadores, uma sociedade que não conhece essas actividades superiores e mais importantes em benefício das quais valeria a pena conquistar essa liberdade [...] O que se nos depara, portanto, é a possibilidade de uma sociedade de trabalhadores sem trabalho, isto é, sem a única actividade que lhes resta. Certamente nada poderia ser pior” [17].
O desaparecimento do trabalho numa sociedade de trabalhadores laborais significaria certamente o desmoronamento de um projecto de mundo. Mas de que desmoronamento se trata? Este constituirá certamente a derrocada de um mundo que, para se sustentar, recuperou absolutamente o universo mais sofrido do animal laborans, condicionou a maioria a uma “vida de trabalho” relativamente à qual a realização pessoal e felicidade são permanentemente desvalorizadas. Certa é também a análise de que as sociedades se transformaram em sociedades de operários que desconhecem tudo o que não se prende com a subsistência ou que relegam para segundo plano actividades para as quais já não se tem tempo nem motivação, porque deixaram de ser úteis. Certamente é também aí que falha a existência. Mas, discordando de Arendt, pior do que abandonar este estágio da cultura civilizacional humana será, certamente, perpetuá-lo.
O pessimismo de Arendt desenvolve-se em torno da sua crítica ao célebre trecho do Livro Terceiro de O Capital de Karl Marx, onde este afirma que “o reino da liberdade” [18] só começa quando de facto o trabalho deixa de ser determinado pela necessidade e por finalidades que lhe são impostas pelo exterior, embora o “reino da liberdade” somente possa florescer sobre o “reino da necessidade”, acrescenta o filósofo. Estas afirmações são habitualmente interpretadas ora como um recuo nas teses anteriormente desenvolvidas por Marx sobre a abolição do trabalho [19] ora como um elemento contraditório na globalidade do seu pensamento [20]. No entanto, para outros estudiosos da filosofia marxista, a afirmação aparentemente contraditória de que a liberdade tem por base a necessidade não significa abandonar a ideia de abolir o trabalho, mas antes sustentar que as actividades na sociedade pós-capitalista já não serão denominadas trabalho [21], isto é, essas ocupações já não se referirão à labuta sofrida, ao trabalho alienado, pesado e repetitivo. Como André Barata também defende, “[...] está aqui em causa uma reinterpretação do trabalho como processo que se passa entre homem e natureza, já não como natureza que se humaniza, mas antes, humanidade que se humaniza”[22].
Segundo Marx, as condições para superar o trabalho-valor, também referido como “actividade não livre” [23], “trabalho forçado”, “imposto” [24] são as relacionadas com o desenvolvimento avançado da maquinaria e da ciência tecnológica, que substituiriam em algum momento o ser humano no processo de produção, reduzindo-lhe o tempo do seu labor e possibilitando, como se lê nos Grundrisse, a formação artística e científica dos indivíduos graças aos meios criados para benefício de todos [25]. Todavia, para Arendt, se fosse possível realizar a “utopia” da abolição do trabalho, não seria propriamente para essas “actividades superiores” que os trabalhadores das actuais sociedades se transportariam.
“O modelo que inspirava esta esperança de Marx era, sem dúvida, a Atenas de Péricles que no futuro, graças ao vasto aumento da produtividade do trabalho humano, prescindiria de escravos para se sustentar e se tornaria realidade para todos. Cem anos depois de Marx, sabemos quão falacioso é este raciocínio: as horas vagas do animal laborans nunca são gastas noutra coisa senão em consumir; e, quanto maior é o tempo que ele dispõe, mais ávidos e insaciáveis são os seus apetites. O facto de estes apetites se tornarem mais refinados, de modo que o consumo já não se restringe às necessidades da vida, mas pelo contrário visa principalmente as superfluidades da vida, não altera o carácter desta sociedade; implica o grave perigo de que chegará o momento em que nenhum objecto do mundo estará a salvo do consumo e da aniquilação através do consumo” [26] .
A revolução tecnológica em curso é passível de nos colocar no limiar de algo absolutamente novo, mas, se o palco da sua actuação for o mesmo dos últimos modelos civilizacionais, a análise de Arendt merece atenção. Pelo facto de não ter sido na liberdade, mas mais na necessidade, que a acção humana se tem concentrado, e por razões que muitas vezes ultrapassam a mera necessidade, o que remanesceu do amplo significado de liberdade exprime pouco mais do que a livre-circulação de pessoas (e bens), que, para todos os efeitos, quando circulam consomem e quando não circulam trabalham para que possam vir a consumir. Nesta espiral vertiginosa, já quase nada resta do horizonte humano a não ser o objectivo de “prover o seu próprio sustento”, que se tornou insaciável, e o de trabalhar, que garante o primeiro, tornando-se ambos, consumo e labor, as únicas actividades que a actual sociedade de operários conhece e lhe restam. Assim, na eventualidade de o labor se retirar da vida das sociedades, esse “vazio” seria colmatado pelo consumo, um consumo devorador do mundo, segundo Arendt.
[17] Arendt, 2001:16.
[18] “O reino da liberdade só começa, de fato, onde cessa o trabalho determinado pela necessidade e pela adequação a finalidades externas; portanto, pela própria natureza da questão, isso transcende a esfera da produção material propriamente dita [...] Mas este sempre continua a ser um reino da necessidade. Além dele é que começa o desenvolvimento das forças humanas, considerado como um fim em si mesmo, o verdadeiro reino da liberdade, mas que só pode florescer sobre aquele reino da necessidade como sua base. A redução da jornada de trabalho é a [sua] condição fundamental”. (Marx, 1986 : 273).
[19] “Os proletários, se pretendem afirmar-se como pessoas, devem abolir a sua própria condição de existência anterior [...] isto é, devem abolir o trabalho”. (Marx; Engels, 1974: 82).
[20] Arendt, 2001:128-129.
[21] “Apesar do aparente recuo teórico de Marx, creio que é possível harmonizar esta posição com a ideia radical de abolir o trabalho presente nas suas obras da juventude. Se o trabalho concreto for encarado como uma categoria historicamente específica, indissociável do trabalho abstrato, então a abolição deste – inquestionável em Marx – implicará a abolição daquele. Por outras palavras, o processo de (re)produção material da humanidade numa sociedade pós-capitalista, ou seja, as atividades da esfera da necessidade do Livro Terceiro de O Capital nunca poderão ser denominadas trabalho”. (Machado, 2017:23).
[22] Barata, 2015:32.
[23] Marx, 1993:168.
[24] Marx, 1993:162.
[25] Cf. Marx, 2011:28.
[26] Arendt, 2001:157.
6. Desafios e ambiguidades da cultura contemporânea
Mas não é apenas Arendt que coloca objecções à capacidade de a ciência e a tecnologia resolverem per se os problemas de fundo do nosso modo de habitar o mundo, a actualidade já nos diz alguma coisa sobre essa impossibilidade. Como Eduardo Lourenço sublinha,
“O que há de novo no mundo contemporâneo não é o facto nem mesmo o grau de inumanidade que a persistência da fome, da doença, da total exclusão de milhões de homens de um mínimo de dignidade ou até da hipótese de sobrevivência revela, mas a constatação de que esse fenómeno coexiste com o espectáculo de uma civilização aparentemente dotada de todos os meios, de todos os poderes, para a abolir”[27] .
Não é de facto necessário esperar por melhor tecnologia para resolver situações de inumanidade tão díspares como a da fome de quem não tem trabalho e a de quem o tem, mas mal existe para subsistir. A justificativa da escassez e a de falta de meios para combater as situações mais degradantes na esfera da subsistência, já pouca ou nenhuma relevância têm num mundo onde o desperdício se globalizou. Nas últimas décadas, tanto a carência como a necessidade do trabalho exaustivo têm sido artificialmente geridas, isto é, o modo de ser laborans cuja versão moderna é duplamente devastadora da existência preserva-se embora existam os meios e a tecnologia e outros “poderes” para abandonar esse modo.
Esta é também a constatação de Herbert Marcuse que, na sua obra Eros e Civilização, de 1955, conclui que os processos sublimatórios da energia humana em trabalho penoso e desagradável, mais do que necessários, são formas de “dominação organizada” [28], um modo de as sociedades contemporâneas e industrialmente avançadas exercerem sobre os seus membros um irracional e elevado grau de repressão. Se, para Sigmund Freud, “o preço do progresso civilizacional é pago com a perda da felicidade” [29], para Marcuse, o preço actual desse “progresso” tornou-se insustentável para a existência humana e para o planeta [30]. Uma década depois, na sua fase mais pessimista, a crítica de Marcuse dirige-se sobretudo aos “membros-reprimidos” das sociedades acima referidas, pelo facto de estes terem perdido a oportunidade de usar a riqueza social em benefício da sua liberdade e por terem permitido que o fundamento lógico (e obsoleto) da dominação se reforçasse através de novas formas de controlo ainda mais eficientes, nomeadamente o consumo e a oferta de actividades ociosas que não exigem empenho mental, mas cuja eficácia é precisamente a de reprimir a necessidade de liberdade. Estas práticas de manipulação, que carecem de resistência e com que Marcuse se indigna, corroboram de algum modo a tese de Arendt de que os trabalhadores das actuais sociedades dificilmente conseguirão libertar-se da sua versão contemporânea de animal laborans, pese mais a sua utilidade na produtividade ou no consumo.
Mas nem a existência se resume à luta pela subsistência nem as razões pelas quais o ser humano se retém nos horizontes mais estreitos da sua liberdade são inultrapassáveis. É incontestável que a necessidade condiciona a liberdade, mas é também verdadeiro que a humanidade pode mais do que essa condição lhe permite. E entre essas possibilidades, estão já as condições que ela mesma criou para eliminar ou, pelo menos, aliviar os constrangimentos que a necessidade lhe impõe.
O aperfeiçoamento da ciência e da tecnologia pode, de facto, assumir um papel determinante na solução de problemas como os da gestão e melhor distribuição dos recursos, contribuir para a redução do consumo de combustíveis fósseis e de outras práticas poluentes, substituir-se ao trabalho que não realiza, e apaziguar o quotidiano cada vez mais angustiado e frustrado consigo próprio. Permitirmo-nos existir no planeta sem grandes sobressaltos em termos de subsistência não significa que se fique desocupado ou se ocupe o tempo apenas com ociosidades entorpecedoras. Salvo certas condições e condicionamentos (artificiais ou patológicos), as estruturas da sensibilidade, percepção e cognição preservam o registo de abertura e alcance das primeiras fases do desenvolvimento do ser humano e nas quais, a troco de nada, não faltava de que se ocupar, aprender, experienciar e criar. Não é a fome nem a pobreza que são estímulos. Pode mais a leveza da liberdade.
Mas muito frequentemente se desconfia dessa liberdade de poder-ser. O horizonte das nossas representações está povoado por figuras mecânicas e deterministas como a de “homem-animal” e por referências como a de um Eu interior isolado, mas colocado perante um mundo exterior que se prontifica de imediato a gerir, reprimir, sublimar e aliviar na medida exacta os “instintos selvagens” e ameaçadores que assomam imprevisivelmente no primeiro. Esta autoridade exterior que é por nós eleita, mas na verdade em nenhum de nós confia, é constituída o nosso mais crítico e atento juiz, um superego culturalmente sofisticado que nos entretém e entretece em sentimentos de culpa e imobiliza, adia a decisão e a transformação, necessárias, quando um projecto de mundo aqui e ali se congela, o que pode dizer-se já ter acontecido com o do capitalismo moderno/contemporâneo.
Pode o regime democrático subsistir sem o capitalismo? Pode. O espanto consiste mais no facto de o primeiro ter conseguido sobreviver ao segundo, pois este ao orientar-se pelos critérios de utilidade e crescimento ilimitado, ele traz para a linha da frente a esfera da necessidade, mas sem a resolver, potenciado as superfluidades da vida que ensombram a esfera da liberdade, o domínio da auto-realização e o da humanização da necessidade defendidos pelos princípios da democracia.
Sobre o que fazer da existência quando a luta pela subsistência já não ocupar maioritariamente os nossos dias, nenhuma resposta será dada pela ciência, pois essa interrogação dirige-se mais à capacidade de assumirmos esse acontecimento transformador ao qual a ciência apela. Neste sentido, se a cultura contemporânea tardar em libertar-se da rigidez mórbida de critérios passados, o advento da ciência e da tecnologia será apenas mais um entre outros mecanismos de dominação e distracção, e o amplo significado da sua componente revolucionária escapará à cultura civilizacional assim como lhe tem escapado, nas últimas décadas, o sentido da existência.
[27] Lourenço,1999: 55.
[28] Marcuse, 1963: 42-44. Segundo Marcuse, « La domination est différente de l’exercice rationnel de l’autorité ». (Marcuse, 1963: 43).
[29] Freud, 2008: 95.
[30] Sustentando-se em algumas das principais teses da metapsicologia de Freud, Herbert Marcuse questiona em Eros e Civilização, “[...] se os benefícios da civilização compensam os sofrimentos infligidos ao indivíduo [...]” (Marcuse, 1963: 15). Para Marcuse, o Princípio da Realidade específico da contemporaneidade é o “Princípio de desempenho” segundo o qual as actuais sociedades exercem um elevado grau de repressão sobre os seus membros. (Cf. Marcuse, 1963: 49-51).
Referências
ARENDT, Hannah ( 2001). A Condição Humana [The Human Condition, 1958]. Trad. Roberto Raposo. Lisboa: Relógio D’Água.
ARISTÓTELES (2004). Ética a Nicómaco. Trad. e notas António C. Caeiro. Lisboa: Quetzal Editores.
ARISTÓTELES (1998). Política. Trad. António Campelo Amaral e Carlos de Carvalho Gomes. Introdução e revisão científica Mendo Castro Henriques. Lisboa: Vega Editora.
BARATA, André (2015). “O trabalho, o hábito e a sua abolição”. Intervalo nº 7:18-33.
FREUD, Sigmund (2008). O Mal-Estar na Civilização [Das Unbehagen in der Kultur,1930]. Trad. Isabel Castro Silva. Lisboa: Relógio D’Água Editores.
HESÍODO (1990). “Trabalhos e Dias”. In Maria Helena Rocha Pereira. Helade. Antologia da Cultura Grega: 83-88. Coimbra: Instituto de Estudos Clássicos da Universidade de Coimbra.
LOURENÇO, Eduardo (1999). O Esplendor do Caos, Lisboa: Gradiva.
MACHADO, Nuno Miguel Cardoso (2017). “A aporia do conceito de trabalho em Marx: uma análise cronológica”. Acedido em 11-11-2017, em: http://lisboa.academia.edu/NunoMiguelMachado.
MARCUSE, Herbert (1963). Eros et Civilisation. Contribution a Freud [Eros and Civilization. A philosophical inquiry into Freud,1955].Trad. J.-G. Nény et B. Fraenkel. Paris: Les Éditions de Minuit.
MARTINS, António Manuel (1994). “A doutrina da Eudaimonia em Aristóteles”. Humanitas, nº 46: 177-197.
MARX, Karl; ENGELS, Friedrich (1974). A Ideologia Alemã – Crítica da filosofia alemã mais recente na pessoa dos seus representantes Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e do socialismo alemão na dos seus diferentes profetas [Die Deutsche Ideologie,1845-46]. Lisboa: Editorial Presença.
MARX, Karl (1986). O Capital: Crítica da economia política. Livro terceiro: O Processo Global da Produção Capitalista. [Das Kapital: Kritik der politschen Ökonomie (1967-1885-1894)]. Trad. Regis Barbosa e Flávio R. Koth. São Paulo: Editora Nova Cultural.
MARX, Karl (1993). Manuscritos Económico-Filosóficos [Ökonomisch-philosophischen Manuskripte, 1844]. Trad. Artur Mourão. Lisboa: Edições 70.
MARX, Karl (2011). Grundrisse. Manuscritos económicos de 1857-58. Esboços da crítica da economia política [Grundrisse der Kritik der Politschen Ökonomie,1857-58]. Trad. Mario Duayer e Nelio Scheneider. São Paulo: Boitempo Editorial.
Anexo [sugestão]
Sugestão Episódio 10, Podcast Mural Sonoro com Xana (Rádio Macau, intérprete, autora) a.k.a Alexandra M. Moreira do Carmo (investigadora)
Fotografia de capa (Soraia Simões): Pós-Pop, Fora do lugar-comum, Gulbenkian.